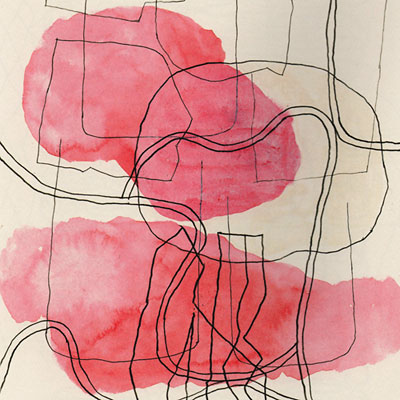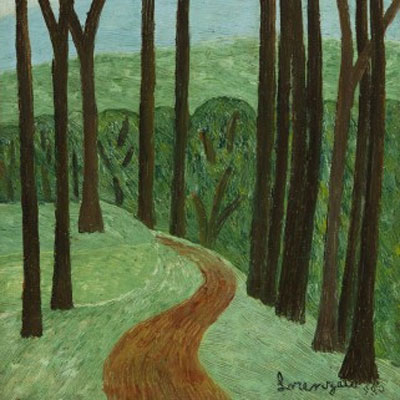[I] Os críticos de arte e comentadores da obra de Partenheimer, sejam eles europeus, chineses ou brasileiros, freqüentemente apontam para o caráter meditativo, aéreo, alegre, imaginativo, e até mesmo lírico de seus desenhos e pinturas, sem esquecer, obviamente, do enigmático equilíbrio que torna sua obra inconfundível, e do silêncio que parece habitá-la (que se pense nas séries do Diário Romano, de Carmen, de De Coloribus, de…
Esta página é um registro do processo de produção da ópera Amazônia – Teatro Música em Três Partes e apresenta minha reflexão sobre tal experimento transcultural.
O projeto teve Concepção artística de Peter Ruzicka, Peter Weibel, Laymert Garcia dos Santos; Consultoria de Bruce Albert, Davi Kopenawa Yanomami, Siegfried Mauser; Iniciativa de Joachim Bernauer, José Wagner Garcia. Realização do SESC São Paulo, Instituto Goethe, Bienal de Munique (Ale), ZKM | Centro de Arte e Mídia de Karlsruhe (Ale), Hutukara Associação Yanomami, Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa (Por);
Os textos aqui apresentados são trechos do artigo Prolegômenos da ópera multimídia Amazônia, publicado originalmente nos Cadernos de Subjetividade (PUCSP), v. 13, p. 28-53, 2011; e do livro Amazônia Transcultural: xamanismo e tecnociência na ópera, publicado em edição bilíngue pela Editora n-1, em 2014, que registra o processo, comenta o espetáculo e reflete sobre suas implicações estético-políticas de forma mais abrangente.
Para comentários mais detidos no espetáculo em si, com descrição de suas três partes, clique aqui.
Prolegômenos da obra
Considerações conceituais sobre um experimento estético-político transcultural
Dia 8 de maio de 2010 estreou no Reithalle, no âmbito da 12ª Bienal de Teatro Música Contemporânea de Munique, uma série de cinco apresentações da ópera Amazônia – Teatro Música em Três Partes, apresentada posteriormente de 21 a 25 de julho no Sesc Pompeia, em São Paulo. A obra, que levou mais de quatro anos para ser criada, merece reflexão porque, salvo engano, inaugura um tipo de cooperação internacional e de experimentação transcultural cujo caráter inédito e relevância levantam questões estético-políticas de primeira ordem. Tendo tido a oportunidade de participar desse processo de criação desde o início, escrevo, portanto, este livro com o intuito de conservar a memória de uma dinâmica que envolveu mais de uma centena de profissionais europeus e brasileiros, bem como a comunidade da aldeia yanomami de Watoriki. Mas, também, de considerar a própria realização da ópera como um material, no sentido heinermülleriano do termo, isto é, como expressão de um conjunto de forças e potências históricas e transistóricas que atravessam nossa experiência do contemporâneo e que, agenciadas por atores provenientes de culturas diversas (a europeia, a brasileira e a yanomami), produziram uma obra que, a meu ver, reconfigura as relações entre essas culturas e pode estar anunciando outros devires.
Amazônia foi uma criação coletiva na qual, desde 2006, importava fazer uma ópera não sobre, mas com a floresta e sua gente. O que, de saída, implicava em apostar na possibilidade de abertura de um diálogo transcultural, e não intercultural nem multicultural, isto é, apostar na construção de um solo comum no qual as diferenças culturais sobre a questão fossem postas e contrapostas, não para encontrar um denominador comum, uma síntese, ou um acordo, mas sim para que o próprio compartilhamento de saberes e práticas fosse estabelecendo parâmetros para lidarmos com as diversas visões da floresta de um modo produtivo. Como observou certa vez o antropólogo Bruce Albert, que teve importante participação no projeto: transformando os mal-entendidos em mal-entendidos produtivos.
Ora, pôr em comum, compartilhar, tem como pré-requisito o reconhecimento de que a relação entre as diferentes culturas do experimento transcultural não pode ser assimétrica, de que não se aceite sujeições. Caso contrário, uma cultura se assume como dominante, tratando as outras como subordinadas e impondo-lhes um papel de coadjuvante no processo. Fazer com exige, portanto, uma atenção constante para com a qualidade da cooperação que se constrói ao longo de todo o percurso da criação. Fazer com precisa tornar-se o próprio motor do experimento, não pode ser apenas uma aspiração ou uma declaração de intenção. (…)
Tudo parecia indicar que o compartilhamento é quase impossível, senão impossível. Mas se isso for verdade, seria então preciso admitir que a intransigência e o preconceito das culturas europeia e brasileira, face às culturas indígenas, são absolutos, e que o único futuro para estas é o total desaparecimento. Mesmo supondo que seja esse o caso, e há fortíssimas razões para se pensar nessa direção, o que isso significaria em termos de futuro da floresta? (…)
Em poucas palavras: seria preciso que as duas cosmologias e as duas culturas, mesmo guardando suas diferenças, fossem tomadas em pé de igualdade, fossem respeitadas em seu modo próprio de enunciação. E foi o que aconteceu.
Porque isto se deu, podemos dizer que o projeto da ópera foi um processo de criação transcultural em que, pela primeira vez, não só as línguas portuguesa, alemã, inglesa e yanomami se misturaram e se traduziram umas nas outras com o propósito de estabelecer os parâmetros e o espaço de um diálogo transcultural sobre a floresta tropical; como também instituições europeias, brasileiras e yanomami (Bienal de Munique, Instituto Goethe, ZKM – Centro de Arte e Mídia de Karlsruhe, Teatro Nacional de São Carlos de Lisboa, Sesc São Paulo e Hutukara Associação Yanomami) uniram esforços, sob a coordenação entusiasmada e incansável de Joachim Bernauer, do Goethe São Paulo, para tornar exequível um projeto transcultural de tamanho porte (…).
Por todas essas razões, creio não ser exagerado afirmar que a realização da ópera Amazônia deve ser encarada como uma experiência transcultural paradigmática para futuros projetos de cooperação cultural internacional. Seus pressupostos, passos, procedimentos e resultados deveriam ser observados, analisados e avaliados porque foram continuamente nutridos pela convicção de que nenhuma cultura deve ser abstratamente considerada como superior a outra, sobretudo quando se trata de Amazônia, e pela certeza de que todas as culturas vivas são contemporâneas, cada uma a seu modo, pois expressam temporalidades próprias que coexistem no espaço e no tempo e atestam que o mundo é feito de vários mundos.
***
A ideia de se fazer uma ópera tematizando a Amazônia foi levada pelo artista plástico José Wagner Garcia a Joachim Bernauer, na época encarregado das questões culturais no Goethe-Institut São Paulo, no segundo semestre de 2005. A conversa rapidamente evoluiu sob a iniciativa de Bernauer, e o escopo do projeto se ampliou com o interesse manifestado pela Münchener Biennale, pelo ZKM, pelo Sesc São Paulo e o envolvimento de outras pessoas, entre as quais o autor deste texto[1].
[1] Para um relato pormenorizado do processo até Dezembro de 2008, ver J. Bernauer, “O Amazonas como ópera: onde artemídia e teatro musical contemporâneo se encontram como os rios Negro e Solimões”. In E. Bolle, E. Castro, M. Vejmelka (org.) Amazônia – Região universal e teatro do mundo. Ed. Globo, São Paulo, 2010, pp. 279-301. Remetemos o leitor para esse texto, para não termos de repetir informações e pormenores que ali se encontram documentados.
Após a redação de alguns projetos preliminares, finalmente, em novembro de 2006, foi discutida, numa reunião de trabalho dos diversos parceiros no ZKM, em Karlsruhe, uma proposta assinada por Laymert Garcia dos Santos e Eduardo Viveiros de Castro. Em seu preâmbulo, levantávamos o porquê de se fazer uma ópera tendo por tema a Amazônia, nos seguintes termos:
“Num texto interessantíssimo, Alexander Kluge lembra que a ópera é um meio artístico baseado no velho princípio europeu segundo o qual se os sentimentos não podem ser expressos em palavras, precisam ser cantados. Em se tratando aqui de uma ópera sobre a Amazônia, é grande a tentação de acrescentar, recorrendo a Jacques Rancière, que a proposta se justifica porque ‘o real precisa ser ficcionado para ser pensado’. Caberia, então, perguntar: por que esse tema ‘exige’ uma ópera? Parece-nos que isso se deve à dificuldade contemporânea de formular e de apreender o que está em jogo na Amazônia e que precisa ser encenado.
Trata-se de fazer o público erudito internacional perceber e realizar que, nessa região do mundo (cuja dimensão geoestratégica se expressa no fato de ser a de número um em termos de megadiversidade biológica, de conter as maiores reservas de água doce do planeta e de influir dramaticamente no clima em toda parte), confrontam-se duas concepções das relações entre natureza e cultura, duas perspectivas que merecem ser esteticamente trabalhadas porque, talvez, só assim será possível converter o seu desencontro num diálogo crucial para o futuro da espécie humana e, também, das outras espécies.
A ópera desenvolveria, portanto, as duas perspectivas em conflito nos dois primeiros atos para, em seguida, no terceiro, voltar-se para a conversão do desencontro em positividade. Nesse sentido, sua dinâmica consistiria no tratamento de duas linhas de força atuais – a que se exerce de fora para dentro e a que irradia de dentro para fora, e que se configuram como Uma Natureza, Muitas Culturas versus Uma Cultura, Muitas Naturezas – e uma linha de força virtual, cuja potência reside num plano comum a ambas, que se encontra apenas implícito e que vale a pena elaborar poeticamente.” [2]
[2] L. G. dos Santos e E. V. de Castro, Proposta inicial de uma ópera sobre a Amazônia. Documento apresentado ao Goethe-Institut São Paulo em março de 2006.
A partir desse pressuposto, a proposta se estruturava em torno de três atos, concebidos como o desenvolvimento das três linhas de força. No primeiro, seria focalizada a perspectiva ocidental através da qual a tecnociência entende e explora a floresta como informação. Aqui poderiam ser tratadas as questões referentes às relações entre biodiversidade e biotecnologia, desde o envolvimento científico com a floresta até a bioprospecção de recursos genéticos de plantas, animais e humanos. Também neste ato seriam tratados, sempre em termos de mapeamento e prospecção, tanto a dimensão geoestratégica da Amazônia quanto a questão da devastação da floresta pelo desenvolvimento predatório, bem como sua inserção subordinada nos contextos nacional e mundial. O segundo ato procederia a um deslocamento e inversão de perspectiva. Agora, a figura central seria o xamã e, através dele, a problematização da perspectiva ameríndia: uma cultura, muitas naturezas. Aqui poderiam ser abordados, por exemplo, a incompreensão multisecular da sociedade indígena, o genocídio, a assimilação, a desqualificação do conhecimento tradicional, mas também, e principalmente, a riqueza que a perspectiva ameríndia compreende para um entendimento da floresta, das plantas, dos animais, do humano. Evidentemente, a construção desse ato exigiria o máximo rigor etnológico para que a complexidade dessa perspectiva fosse tratada sem a menor concessão ao exotismo e aos clichês ocidentais sobre o bom selvagem etc. Tratava-se, em suma, de fazer o espectador experimentar, em sua própria percepção, a mudança de perspectiva e, por um momento, assumir o ponto de vista do outro. Em cena, portanto, não estaria a “cultura indígena”, como uma entre outras, mas a força do mito e a criação das múltiplas naturezas. Finalmente, o terceiro ato exploraria as possibilidades de conversão do conflito de perspectivas num diálogo aberto, a partir das potências do virtual, da invenção e da individuação. Aqui, o tecnólogo-filósofo poderia se encontrar com o xamã para conversarem sobre a magia e a tecnologia como operações de diálogo com a(s) natureza(s).
(…)
Não cabe, aqui, nos alongarmos sobre o modo como a tecnociência percebe a floresta como informação. Bastaria lembrar que, segundo os estudiosos do assunto, desde a “virada cibernética” dos anos 50, a tecnociência instaura, primeiro nos laboratórios, depois na própria vida social, por um lado, um aprofundamento das modernas relações de dominação irrestrita da natureza pelo homem, por outro, um novo tipo de entendimento das relações entre natureza e cultura, que levou Serge Moscovici a cunhar as expressões “Natureza-como-informação” e “Cultura-como-informação”. Trata-se de uma perspectiva instrumental que desconstrói plantas, animais e micro-organismos e toma a natureza e as culturas, todas as culturas, como matéria-prima para uma transformação biotecnológica, cujo princípio operatório preconiza a recombinação molecular e a aceleração e reconfiguração da evolução. Assim, a perspectiva da tecnociência rompe com o passado quando o enquadramento cibernético inaugura a visão da floresta e de todos os que nela habitam, inclusive os povos tradicionais, como informação; mas prolonga o passado rumo ao futuro, ao postular que a Natureza-como-informação deve ser dominada e apropriada, agora no plano infinitesimal, por uma cultura específica, a cultura tecnocientífica.
(…) tanto os “civilizadores” modernos quanto os contemporâneos fundamentam, em última instância, sua perspectiva num pressuposto ontológico e epistemológico comum criado pela ciência: o de que existe uma única natureza e múltiplas culturas. Ocorre que essa não é a perspectiva compartilhada pelos povos indígenas da Amazônia, do Brasil e, quiçá, de toda a América. Com efeito, do ponto de vista destes, o mito cria a perspectiva inversa: existe uma única cultura, a cultura humana, e muitas naturezas. Com a palavra, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro:
“(…) se há uma noção virtualmente universal no pensamento ameríndio, é aquela de um estado originário de indiferenciação entre os humanos e os animais, descrito pela mitologia.” “A condição original comum aos humanos e animais não é a animalidade, mas a humanidade. A grande divisão mítica mostra menos a cultura se distinguindo da natureza que a natureza se afastando da cultura: os mitos contam como os animais perderam os atributos herdados ou mantidos pelos humanos. Os humanos são aqueles que continuaram iguais a si mesmos: os animais são ex-humanos, e não os humanos ex-animais.[3] “(…) o referencial comum a todos os seres da natureza não é o homem enquanto espécie, mas a humanidade enquanto condição.”[4]
[3] E. V. de Castro, “Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena”. In A inconstância… op. cit., pp. 354 e 355 (grifos do autor).
[4] P. Descola apud Viveiros de Castro, op. cit. p.356.
Quando passamos dos “civilizados” aos “selvagens” na Amazônia contemporânea testemunhamos, portanto, a criação de mundos muito diferentes. É verdade que em termos quantitativos, é enorme a desproporção entre os milhões de “brancos” que vivem segundo os parâmetros ocidentais e os milhares de índios que vivem segundo a perspectiva ameríndia; mas é preciso lembrar que os territórios indígenas representam cerca de 10% da Amazônia brasileira, e que é neles que se concentra a maior riqueza em bio e sociodiversidade. Além disso, é preciso, sobretudo, dar-se conta de que, talvez, pela primeira vez na História, existe uma possibilidade concreta de transformar o conflito, que opõe as duas perspectivas, num diálogo fecundo para ambas as partes se percebermos que tanto a ciência contemporânea quanto o mito ameríndio podem contribuir para um novo entendimento da individuação humana e não humana (animais e máquinas). Isso porque, paradoxalmente, a concepção cibernética de natureza e de cultura gera, através da própria noção de informação, uma interface que encontra intensa ressonância com o plano do animismo do qual homens e animais participavam nos primórdios, isto é, essa espécie de continuidade metafísica comum a todos eles. Tal interface foi estabelecida pelo filósofo Gilbert Simondon quando, estudando a questão da invenção a partir do paradigma tecnológico e da noção de informação, descobriu que a ontogênese da individuação nos campos da física, da biologia e da tecnologia podia ser pensada por um único referencial teórico capaz de compreender o plano da realidade pré-individual a partir do qual os seres se individuam. Em cada um desses campos a invenção se dá quando a informação atua nessa realidade pré-individual, intermediária, que o filósofo denomina “o centro consistente do ser”, essa realidade natural, pré-vital tanto quanto pré-física, que testemunha uma certa continuidade entre o ser vivo e a matéria inerte, e também atua na operação técnica.
Como afirma Simondon:
“O objeto técnico, pensado e construído pelo homem, não se limita apenas a criar uma mediação entre o homem e a natureza; ele é um misto estável do humano e do natural, contém o humano e o natural (…) A atividade técnica (…) vincula o homem à natureza.”[5] “O ser técnico só pode ser definido em termos de informação e de transformação das diferentes espécies de energia ou de informação, isto é, de um lado como veículo de uma ação que vai do homem ao universo, e de outro, como veículo de uma informação que vai do universo ao homem.”[6]
[5] G. Simondon. Du mode d’existence des objets techniques. Aubier-Montaigne, Paris, 1969, p. 245.
[6] G. Simondon. L’individuation psychique et collective. Aubier, Paris, 1989, p.283.
A análise de Simondon estabelece a informação como uma singularidade real que dá consistência à matéria inerte, ao ser vivo (planta, animal, homem), e ao objeto técnico. E não seria descabido aproximar a formulação do filósofo do luminoso enunciado de Gregory Bateson, que definiu a informação como “uma diferença que faz a diferença”. Ora, a possibilidade de se conceber um substrato comum à matéria inerte, ao ser vivo e ao objeto técnico, apaga progressivamente as fronteiras estabelecidas pela sociedade moderna entre natureza e cultura. Mais ainda: tudo se passa como se houvesse um plano de realidade em que matéria e espírito humano pudessem se encontrar e comunicar não como realidades exteriores postas em contato, mas como sistemas que passam a se integrar num processo de resolução que é imanente ao próprio plano. Se a técnica é veículo de uma ação que vai do homem ao universo e de uma informação que vai do universo ao homem, é fator de resolução de um diálogo intenso no qual o que conta é a interação, o caráter produtivo do agenciamento, e não as partes pré-existentes. Na base da virada cibernética encontra-se, assim, a capacidade do homem de “falar” a linguagem do “centro consistente do ser”.
A possibilidade de aceder, através da informação, ao plano da realidade pré-individual, plano que outros qualificam como dimensão virtual da realidade, possibilita, portanto, um outro entendimento dos processos de individuação. Plantas, animais, homens e máquinas passam a ser vistos como resultado de uma evolução que se dá não por adaptação, mas por invenção, atualização de potenciais efetuados pela diferença que faz a diferença. Rompem-se então as velhas fronteiras entre natureza e cultura, tornando-se possível compatibilizar a invenção tecnológica com a invenção da natureza porque ambas procedem de um solo comum que nos permite, inclusive, pensar a natureza como design. Mas, por outro lado, torna-se possível também compatibilizar a invenção tal como entendida pelo tecnólogo e a invenção tal como entendida pelo xamã. Com efeito, como observa Geraldo Andrello ao estudar a narrativa mítica dos índios Tukano, “o mundo tal qual vivido por aqueles índios poderia muito bem ser descrito com base nas categorias propostas por Simondon”: “sua tematização do longo período que antecede o aparecimento dos primeiros humanos corresponde a uma realidade pré-individual, um mundo de potências, dado através de uma ontologia demiúrgica, e que se resolve como um processo de individuação.” O antropólogo considera que o papel reservado à informação por Simondon parece ser o mesmo desempenhado pela diferença na ontologia amazônica – oriunda que é daquele fundo virtual de afinidade potencial. E conclui: “Assim, chegamos à questão de fundo: se Simondon merece ser relido hoje, certos modos de viver, tal como o dos índios da Amazônia, mereceriam ser valorizados, pois fazem de ideias muito próximas às do filósofo o próprio fundamento de suas sociedades e culturas. Eles não fazem filosofia, mas oferecem à nossa apreciação, entre outras coisas, uma mitologia vivida, que transporta uma mensagem a respeito de como lidar com o virtual, com a diferença, e talvez com a informação.”
A conversão do confronto entre a perspectiva do homem ocidental e a perspectiva do ameríndio passaria então por um entendimento ultracontemporâneo da tecnologia e da operação técnica. Mas ao mesmo tempo, e de modo bastante surpreendente, tal operação técnica também poderia ser compreendida como uma operação que os aproxima, se lembrarmos que o técnico habilitado para a tarefa é o descendente do remoto xamã. Com efeito, o primeiro técnico é o pajé, o medicine man, que surge na mais originária fase da relação entre o homem e o mundo. Como escreve Simondon: “Podemos denominar essa primeira fase fase mágica, tomando a palavra no sentido mais geral, e considerando o modo de existência mágico como aquele que é pré-técnico e pré-religioso, imediatamente acima de uma relação que seria simplesmente aquela do ser vivo com o seu meio.” [7]
[7] G. Simondon, Du mode… op. cit. p. 156.
O que faz então o primeiro técnico? O filósofo revela que ele traz para sua comunidade um elemento novo e insubstituível produzido num diálogo direto com o mundo, um elemento escondido ou inacessível para a comunidade até então. O xamã é, assim, o primeiro técnico. E talvez um eco de sua façanha ainda ressoe quando nos contam que uma tribo da Nova Zelândia acredita que o avião foi criado por seus ancestrais, e quando o xavante José Luís Tsereté, ou ainda outros índios do Xingu, proclamam que seus povos foram os verdadeiros inventores de toda sorte de objetos técnicos.
***
(…)
O ano de 2007 transcorreu um tanto quanto em câmera lenta, em termos de criação. Além de digerirmos o seminário Ensaios Amazônicos e de começarmos a discussão para saber quantos e quais povos indígenas poderiam entrar em nosso experimento, o período foi marcado pela busca e convite a criadores e pelas iniciativas das instituições envolvidas para levantar os custos da produção, bem como a maneira de bancá-la. Desde o início a presença da Petrobras, através do Cenpes, seu centro de pesquisas, surgira como um sponsor quase certo, ao lado do Instituto Goethe, do Sesc São Paulo e da própria Bienal (mais tarde, a participação da Petrobras não só diminuiu, como cessou). Nesse mesmo ano, no segundo semestre, ocorreu em Munique, a convite da Münchener Biennale e de seu diretor, Peter Ruzicka, um encontro dos parceiros e dos principais envolvidos no projeto, para discutir o andamento dos trabalhos e uma agenda que permitisse assegurar o processo de criação. A essa altura, já tínhamos os compositores Tato Taborda e Klaus Schedl, o diretor Michael Scheidl e sua esposa, a cenógrafa e figurinista Nora Scheidl, e o pessoal do ZKM, sob o comando de Peter Weibel. O entendimento da equipe se adensava, brasileiros e alemães se conheciam melhor, as ideias evoluíam e as discussões, muito produtivas, às vezes bastante tensas, iam nos obrigando a ajustar o foco. Mas no final do ano, por ocasião de uma reunião do grupo dos brasileiros, em São Paulo, uma crise se declarou com a saída do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que decidiu deixar a empreitada após desentendimento com um dos membros da equipe.
Sua saída, evidentemente, colocou o projeto numa encruzilhada, na medida em que o enquadramento conceitual se fundava nas duas perspectivas já mencionadas – e Viveiros de Castro era o pensador do perspectivismo que elaborara a diferença cosmológica fundamental: Uma Natureza, Muitas Culturas versus Uma Cultura, Muitas Naturezas. Seu desligamento significava, portanto, ou a formulação de um novo projeto, ou o abandono da ópera. Após algumas consultas entre São Paulo, Munique e Karlsruhe, ficou acertado que tentaríamos fazer uma nova proposta, porque valia a pena lutar pela realização tendo em vista o material já levantado, o potencial já mobilizado, as pistas já entrevistas e o desejo de arriscar um diálogo transcultural, mesmo sob a ameaça dele fracassar.
Incumbido de redigir a nova proposta, viajei para Boa Vista a fim de me encontrar com Carlo Zacquini e com o xamã e líder yanomami, Davi Kopenawa, para indagar a este se os yanomami aceitariam se tornar parceiros na realização de uma ópera, ainda que esta expressão artística fosse totalmente alheia à sua cultura. O que me levava a ousar tal iniciativa era o fato de ter relações antigas com os yanomami (fôra presidente da Comissão Pró-Yanomami), de conhecer Davi e os aliados que capitanearam a luta pela demarcação de seu território (o próprio Carlo Zacquini, a fotógrafa Claudia Andujar e o antropólogo Bruce Albert). Por outro lado, sabia que Davi Kopenawa não desconhecia o poder da arte como uma forte aliada na luta pelo reconhecimento dos direitos à terra e à cultura – tanto as imagens de Claudia Andujar (que já circulavam por exposições e livros há anos) quanto a exposição L’esprit de La forêt, na Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, em Paris, em 2003, haviam mostrado que estética e política podiam andar juntas na divulgação da causa yanomami, o que me levava a crer que meu convite não soaria descabido.
Não convidei apenas Davi, mas a comunidade de Watoriki e a Hutukara Associação Yanomami, com sede em Boa Vista. A proposta foi aceita com generosidade e interesse e o xamã, em contrapartida, convidou a equipe da ópera para visitar sua aldeia por ocasião da Festa da Pupunha, que ocorre geralmente em março. De volta a São Paulo, encontrei-me com Bruce Albert, buscando trazê-lo para o projeto. Além de grande conhecedor da cultura yanomami e de ter estado junto desse povo durante as últimas três décadas, o antropólogo estava terminando um livro seminal com Davi Kopenawa, fruto de um trabalho compartilhado durante mais de vinte anos, e publicado em Paris, em setembro de 2010, sob o título La chute du ciel, pela Plon.
Bruce Albert leu a nova proposta, cujo arquivo digital chamei de Ópera 2.0, e aceitou tornar-se consultor, sobretudo da parte referente à participação yanomami na criação da obra. Sua aceitação viabilizava novamente o projeto, pois o antropólogo trazia consigo não só uma preciosa expertise antropológica, como uma enorme relação de confiança com os índios, além de sua experiência na realização da mostra na Cartier – exposição que, em meu entender, já era marcada como um inédito experimento transcultural no âmbito da arte contemporânea, envolvendo índios e artistas.
A proposta 2.0 já incorporava, de saída, a ideia de que a floresta era efetivamente a personagem principal, consolidada ao longo de todo o processo. Não só porque sua perda era nossa maior preocupação, porque Sloterdijk intuíra que ela poderia ser o Orfeu amazônico, ou porque a máquina de chuva e de absorção de CO2 descrita por Fearnside era crucial, mas também porque, desde Ensaios Amazônicos, ficara claro que os próprios amazônidas pensavam assim. Com efeito, o texto que Lúcio Flávio Pinto (cuja paixão feroz e incondicional pela Amazônia impressiona quem o conhece) enviou já o dizia com todas as letras. Respeitávamos seu ponto de vista porque o sociólogo e jornalista, além de grande conhecedor da região, não tem medo de encará-la sem disfarces e em toda a sua complexidade. Ora, Lúcio Flávio era taxativo: a questão central da Amazônia foi, é e será a floresta. Por isso mesmo, ela tinha de ser a personagem da opera [8].
[8] Depoimento enviado pelo autor, ainda inédito.
Entretanto, na ópera, a floresta amazônica precisava ser a personagem tanto do ponto de vista da tecnociência, perspectiva dos “de fora”, quanto do ponto de vista da população local, dos “de dentro”. A essa altura, contudo, já estava evidente para nós que um problema se colocava, referente ao modo como a tecnociência se relaciona com a floresta. Pois o fato desta inaugurar um novo tipo de conhecimento, um novo enfoque (a floresta como informação), não a torna capaz de promover a sua preservação. Com efeito, arma-se uma situação terrível: por um lado, o conhecimento tecnocientífico acumulado sobre a floresta e sobre sua destruição não parece ter força para influir decisivamente nos rumos do desenvolvimento predatório levado a cabo pelos civilizados; por outro lado, o conhecimento tradicional dos povos indígenas revela-se operatório para assegurar, mais do que a coexistência, a sustentabilidade de uma relação positiva entre natureza e cultura. Mesmo assim, como observou o ex-senador indígena da Colômbia, o guambiano Lorenzo Muelas, na plenária da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, em Buenos Aires, o Ocidente não se rende às evidências. Os índios, disse ele, praticam o desenvolvimento sustentável há séculos; daí os “brancos” chegam, destroem as práticas tradicionais e, em seguida, pretendem ensinar aos índios o “desenvolvimento sustentável”.
Há, assim, uma contradição, um conflito que se encontra no coração das relações estabelecidas com a floresta e que torna o jogo negativo para todos. Parece que os “brancos” são incapazes de ouvir o que os povos indígenas estão dizendo. A proposta 2.0 assumia, portanto, que no centro de uma ópera que tem como personagem principal a floresta, a tragédia é a impossibilidade de ouvir quem enuncia o nó do problema inteiro. E até mesmo os instrumentos tecnocientíficos mais precisos e as técnicas mais apuradas não são suficientes para fazer o homem ocidental contemporâneo perceber a sua cegueira e surdez, fruto de sua ausência de compromisso com o futuro da floresta.
Ora, o conhecimento tecnocientífico contemporâneo não dá crédito, por princípio, ao que diz o conhecimento tradicional, pois a própria constituição do seu discurso se dá pela negação dos saberes que o precedem. Mas a arte, que parte de outros pressupostos, pode ser mais livre do que a ciência para arriscar-se a ouvir o que os povos indígenas estão dizendo. A arte não tem problema em relacionar-se com o mito, a estética não tem nada a perder ao se abrir para essa dimensão. E aqui entram os Yanomami na ópera.
Os Yanomami são um dos povos mais tradicionais da Amazônia e do mundo, e que mais aferradamente se atém ao seu modo de vida (Pierre Clastres os chamou, num texto magnífico, “o último círculo”). Desde o final dos anos 80, seu líder, o xamã Davi Kopenawa Yanomami, repete incansavelmente – em todas as viagens que realiza, no Brasil e em outros países, para defender seu povo e seu território – que a floresta não pode morrer. Numa conversa com o antropólogo Bruce Albert, o xamã observou:
“Os pajés Yanomami que morreram já são muitos, e vão querer se vingar… Quando os pajés morrem, os seus hekurabé, seus espíritos auxiliares, ficam muito zangados. Eles vêem que os brancos fazem morrer os pajés, seus ‘pais’. Os hekurabé vão querer se vingar, vão querer cortar o céu em pedaços para que ele desabe em cima da terra; também vão fazer cair o sol, e quando o sol cair, tudo vai escurecer. Quando as estrelas e a lua também caírem, o céu vai ficar escuro. Nós queremos contar tudo isso para os brancos, mas eles não escutam. Eles são outra gente, e não entendem. Eu acho que eles não querem prestar atenção. Eles pensam: ‘esta gente está simplesmente mentindo’. É assim que eles pensam. Mas nós não mentimos. Eles não sabem dessas coisas. É por isso que eles pensam assim…” Logo em seguida, retomando o mesmo raciocínio, o xamã acrescenta: “Nós, os pajés, também trabalhamos para vocês, os brancos. Por isso, quando os pajés todos estiverem mortos, vocês não conseguirão livrar-se dos perigos que eles sabem repelir… Vocês ficarão sozinhos e acabarão morrendo também.” [9]
[9] Davi Kopenawa Yanomami & Bruce Albert, “Xawara: Das Kannibalengold und der Eisturz des Himmels – Ein Gespräch/Xawara: O Ouro Canibal e a Queda do Céu, in Laymert Garcia dos Santos, Drucksache N.F. Düsseldorf: Richter Verlag/Internationale Heiner Muller Gesellschaft, 2001, pp. 52-53.
(…)
Em seu texto Yanomami l’esprit de la forêt, Bruce Albert esclarece o que quer dizer floresta para os Yanomami:
“A palavra urihi a designa em yanomami, ao mesmo tempo, a floresta tropical e o solo sobre o qual ela se estende. Também remete, através de encaixes sucessivos, a uma ideia de territorialidade aberta e contextual. Assim, a expressão ipa urihi, ‘minha terra-floresta’, pode designar a região de nascimento ou de residência atual de um locutor (como domínio de uso), enquanto yanomae thëpë urihipë, ‘a terra-floresta dos seres humanos (Yanomami)’ se aproxima de nossa ideia de ‘território yanomami’, e urihi a pree, ‘a grande terra-floresta’ se refere a um espaço englobante maximal que faz eco ao nosso conceito de ‘Terra’. Reservatório inesgotável de recursos indispensáveis à sua existência, essa ‘terra-floresta’ não é, porém, de modo algum para os Yanomami um cenário inerte e mudo situado fora da sociedade e da cultura, uma ‘natureza morta’ submetida à vontade e à exploração humana. Trata-se, pelo contrário, de uma entidade viva, dotada de uma imagem-espírito xamânica (urihinari), de um sopro vital (uixia) e de um poder de crescimento imanente (në rope). Mais ainda, ela é animada por uma complexa dinâmica de trocas, de conflitos e de transformações entre as diferentes categorias de seres que a povoam, sujeitos humanos e não humanos, visíveis e invisíveis.” [10]
[10] Bruce Albert, “L’esprit de la forêt”, in Yanomami l’esprit de la forêt, Fondation Cartier pour l’Art Contemporain, Paris: Actes Sud, 2003, p. 46.
Essa terra-floresta comporta, portanto, uma dimensão atual e uma dimensão virtual em constante interação, que não parecem aceitar uma separação entre os planos transcendente e imanente, pelo menos como os concebemos, uma vez que a transcendência e a imanência fazem parte de uma “mesma economia de metamorfoses”, para retomar a expressão de Bruce Albert. Nesse sentido, a terra-floresta não pode ser confundida com uma paisagem, um “meio” ou uma área objetivada como mera fonte de recursos, cuja existência só se justifica porque pode propiciar aos humanos a sua sobrevivência ou o seu enriquecimento. O sentido da floresta não é, de modo algum, unidimensional. Por isso, as palavras do xamã complementam as do antropólogo:
“O que vocês chamam natureza, em nossa língua, é urihi a, a terra-floresta e sua imagem, que os xamãs vêem, urihinari. É porque esta imagem existe que as árvores são vivas. O que chamamos urihinari, é o espírito da floresta: os espíritos das árvores, huutihiripë, das folhas, yaahanaripë, e dos cipós, thoothoxiripë. Tais espíritos são muito numerosos e brincam no solo da floresta. Nós os chamamos também urihi a, natureza, assim como os espíritos animais yaroripë e até mesmo os das abelhas, das tartarugas e dos caracóis. A fertilidade da floresta, në rope, também é para nós a natureza: ela foi criada com esta, é sua riqueza.” [11]
[11] Davi Kopenawa, “Urihi a”, in Yanomami l’esprit de la forêt, op. cit., p. 51.
Natureza, então, para os Yanomami, é urihi a, a terra-floresta, e urihinari, o espírito da floresta, imagem que os xamãs vêem. Mas é também dessa natureza mítica que nascem os cantos dos xamãs Yanomami. Com efeito, numa narração de grande força, Davi Kopenawa transmite a Bruce Albert, com riqueza de detalhes, o modo como os espíritos xapiripë, que são as imagens dos ancestrais que se transformaram nos primeiros tempos, se manifestam para os xamãs no transe xamânico, após a ingestão do pó yãkoana. Assim, depois de descrever a beleza e o deslumbramento das manifestações dessas imagens, Davi passa a falar de seus cantos. Vale a pena transcrever uma parte importante do relato, para que tenhamos uma ideia mais precisa de como, através dos xamãs e dos xapiripë, se dá a recepção do canto da floresta mítica, e de como, na concepção Yanomami, até mesmo a música dos brancos teria ali a sua origem.
“Os cantos dos xapiripë são realmente inumeráveis. Eles não cessam nunca, pois é junto das árvores amoahiki que os xapiripë os colhem. Foi Omama [o criador da humanidade atual e de suas regras culturais] quem criou essas árvores de cantos, afim de que os xapiripë venham aí adquirir suas falas. Assim, quando eles descem de muito longe, os xapiripë passam perto delas para apanhar os cantos, antes de sua dança de apresentação. Todos os que assim o desejam se detêm, então, perto das árvores amoahiki para coletar suas falas infinitas. Com elas eles enchem, incessantemente, cestos vazados, corbelhas e grandes jamaxins. Eles não param de acumulá-los. É o que fazem os espíritos melros, os espíritos xexéu e os espíritos sitiparisiri [tempera-viola] e tãritãriaxiri [gaturamo]. Os cantos dos xapiripë são tão numerosos quanto as folhas da palmeira paa hanaki que se colhe para o teto de nossas malocas, e até mais do que todos os Brancos reunidos. É por isso que suas falas são inesgotáveis. (…) Assim, as árvores amoahiki não param de distribuir seus cantos a todos os xapiripë que chegam perto delas. Sua língua é realmente inteligente, embora algumas possam ser pobres de falas, e só ter um falar de espectro. São grandes árvores cobertas de lábios que se mexem, uns sobre os outros, deixando escapar magníficas melodias. Lá onde Omama, nos primeiros tempos, as plantou na terra, os cantos não param de surgir. É possível ouvi-los sucedendo-se sem fim, tão inumeráveis quanto as estrelas. Mal termina um canto e, muito rapidamente, começa outro. Suas falas não se repetem e jamais se esgotam. Pelo contrário, elas não param de proliferar. (…) É lá que os xapiripë devem descer para adquirir seus cantos. Finalmente, quando os xamãs, seus pais, ouvem suas falas, eles por sua vez os imitam. É assim que todos os outros Yanomami podem então ouvi-los. Não pense que os xamãs cantam sozinhos, sem motivo. Eles cantam o que cantam seus espíritos. Os cantos penetram um atrás do outro em seus ouvidos, como nesse microfone. (…) Mas há também árvores que cantam nos confins da terra dos Brancos. Sem elas, seus cantores só teriam melodias curtas demais. Só as árvores amoahiki ofertam belas falas. São elas que as introduzem em nossa língua e em nosso pensamento, mas também na memória dos Brancos. Os xapiripë escutam as árvores amoahiki olhando para elas com muita atenção. O som de seus cantos penetra em seus ouvidos e se fixa em seu pensamento. É assim que eles conhecem. Para os Brancos, os espíritos melros dão folhas cobertas de desenhos de cantos que caem das árvores amoahiki. As máquinas deles as transformam em peles de papel que os cantores olham. Daí eles podem dançar e cantar. Desse modo eles imitam as coisas dos espíritos. É assim. Os Brancos também apanham seus cantos lá onde Omama plantou as árvores amoahiki. Há muitas delas nos limites das suas terras. Eles olham os desenhos de seus cantos sobre peles de papel para imitá-las e se apropriarem deles. É por isso que têm tantos cantores, músicas, gravadores, discos e rádios. Mas nós, os xamãs, não temos o que fazer com os papéis de cantos, só queremos a fala dos xapiripë para guardá-la em nosso pensamento.”[12]
[12] Davi Kopenawa e Bruce Albert, “Les ancêtres animaux”, in Yanomami l’esprit de la forêt, op. cit., pp. 68 e ss.
O canto procede portanto, de uma floresta mítica. Mais ainda: o conhecimento que os Yanomami e seus xamãs adquirem parece ter sua matriz sonora no canto de árvores míticas. A natureza viva é preciosa, ao mesmo tempo, como terra-floresta e como imagem visual e sonora. Vale dizer: como ópera de não humanos e de humanos numa economia de metamorfoses. É isso que os xamãs querem dizer e que ninguém parece querer ouvir. Se a personagem central da ópera é a floresta da Amazônia, os Yanomami são o vetor que pode nos fazer aceder ao espírito da floresta; por isso mesmo, são eles que alertam para o perigo do fim. A ameaça da perda irreparável para índios e brancos suscita a agonia dos Yanomami que tudo fazem para salvar a floresta; mas o que eles dizem é que a agonia da floresta é também a nossa própria agonia.
***
Dia primeiro de maio de 2008, no final da temporada da 11a Münchener Biennale, a equipe da ópera realizou uma apresentação do projeto para o público de Munique, sob o nome de Amazonas-Oper. (…) Uma parte da apresentação foi destinada aos Yanomami – Davi Kopenawa e seu filho Dário Vitório Xiriana, os xamãs Ari Pakidari e Levi Hewakalaxima – que estavam acompanhados por Bruce Albert e Carlo Zacquini.
A apresentação, que se deu na Black Box do Gasteig, misturava instalações, projeções e performances, e deveria ter seguido uma certa mise-en-scène. Mas a atuação dos três xamãs yanomami – que não sabíamos ao certo como ia se dar porque preferiram nada nos contar, dizendo apenas que haveria canto e fala –, surpreendeu a todos. Com efeito, Davi, Ari e Levi pediram para ficar isolados durante uma hora antes do espetáculo, no espaço em que iriam se apresentar. E quando as portas se abriram e o público entrou, nos demos conta que estavam fazendo xamanismo. A execução de um ritual (depois soubemos que se tratava de um ritual de cura) impressionou a todos pela potência dramática dos gestos e movimentos, e pela força do canto. O público intuiu imediatamente que não estava assistindo a uma representação mas, ao mesmo tempo, não sabia como apreender a cerimônia pelo inesperado do que via e ouvia. Por outro lado, ficava evidente que os xamãs, em transe, se encontravam num outro espaço-tempo, muito diferente do nosso, e que a performance extrapolava inteiramente o timing e as regras de uma encenação ocidental. E ainda havia o risco de parte do público, diante do inusitado do acontecimento, interpretá-lo no registro dos clichês sobre povos “primitivos”, ou seja, como folclore e exotismo. No dia seguinte, uma discussão com todos os participantes da apresentação, puxada por Peter Weibel (que assumia a responsabilidade pela dimensão multimídia da ópera) e Peter Ruzicka (que respondia pela dimensão musical), problematizou todos os aspectos do que havia ocorrido. Para muitos de nós, ficou evidente que não seria possível manter a presença dos xamãs no palco da ópera. A complexidade, a beleza e a potência do xamanismo, enquanto expressão máxima da cosmologia e da cultura yanomami, deveriam ser agenciadas de outra forma.
(…)
A partir de então, o processo de criação começou a se acelerar. Foi contratado Roland Quitt como dramaturgo e libretista, e diversos encontros entre os compositores, encenadores e artistas brasileiros e europeus foram delineando a configuração do espetáculo, que a Münchener Biennale preferiu chamar de teatro música em virtude de uma polêmica existente na Alemanha em torno do termo ópera. Assim, Amazonas – Musiktheater in drei Teilen/ Amazônia – Teatro Música em três partes começou a tomar forma.
Os brasileiros trabalhavam em São Paulo e no Rio de Janeiro, os europeus, em Munique, Karlsruhe, Viena, Mannheim e, na fase final, em Lisboa. Em agosto de 2009, um workshop com vários xamãs yanomami, reunidos sob a iniciativa de Davi Kopenawa, em Watoriki, aprofundou o contato com a perspectiva mítica que estruturaria a Segunda Parte da ópera, denominada A Queda do Céu. Para a aldeia, então, viajaram Bruce Albert, Roland Quitt, Michael e Nora Scheidl, Laymert Garcia dos Santos, Leandro Lima, Tato Taborda, Moritz Büchner (do ZKM) e Sérgio Pinto (do Sesc São Paulo).
***
Foram cinco dias muito intensos, com longas conversas com os pajés, captura de imagens e de sons, dos rituais e da floresta, e sessões diárias de xamanismo, que duravam de seis a oito horas ou mais. Certo dia, quando estávamos em pleno workshop, experienciamos um momento incrível no qual tivemos um insight que nos fez vislumbrar a complexidade da produção de imagens e de sons do xamanismo yanomami, de certo modo, o “dispositivo tecnológico” singular e especialíssimo que essa cultura desenvolveu para acessar as potências da dimensão virtual da realidade.
Como de hábito, os xamãs faziam seu ritual, inalando yãkohana, cantando, dançando, falando… Subitamente, Levi Hewakalaxima (o pajé de voz e presença poderosas, cuja performance impressionara a todos na apresentação em Munique, em maio de 2008), dirigiu-se ao antropólogo Bruce Albert, apontou para nós, pôs a mão no próprio peito e disse, em yanomami: “Diga a eles que estou baixando em meu peito a imagem do canto-palavras do pássaro oropendola.” E de imediato “sintonizou” novamente o ritual, voltando a cantar e a dançar.
Fiquei assombrado. Pois pareceu-me que, durante essa espécie de dow load de um arquivo audiovisual, o corpo de Levi funcionava ao mesmo tempo como hardware e como software, processando um programa que estava sendo rodado pela mente do xamã, como som-canto do xapiripë, tornando-se uma imagem que será “lida” como uma espécie de partitura pelo intérprete. De acordo com as palavras de Bruce Albert, “os sons-cantos do xapiripë vêm primeiro: as imagens mentais induzidas pela yãkohana tomam forma a partir de alucinações sonoras; o que significa um devir imagem do som”.
Esse ponto aparece-nos (a Bruce e a mim mesmo) como uma verdadeira possibilidade de uma ligação entre o universo Yanomami e a perspectiva tecnocientífica explorada pelo ZKM na Terceira Parte. A questão que se coloca é: seria possível estabelecer uma conexão positiva entre a tecnologia de transformação de dados digitais em sons e a materialização corpórea das imagens mentais associadas à origem das entidades da floresta? A pergunta, formulada por Bruce Albert, é muito interessante porque, em ambos os casos, parece que estamos lidando não só com sinestesia, embora de maneiras distintas, mas também com procedimentos diferentes para atualizar as potências do virtual. Ou deveríamos dizer: com tecnologias diversas? Se trabalharmos sobre a possível ligação entre essas duas perspectivas incorporadas nessas diferentes tecnologias, talvez possamos começar um diálogo fantástico entre as culturas Ocidental e Yanomami. Comentando com o antropólogo Geraldo Andrello minha tentativa de entender, através da analogia cibernética, o que havia acontecido, ele observou: “Será que o virtual yanomami é o mesmo virtual projetado pela tecnociência? Não sei se cabe falar em tipos de virtualidades. (…) Alguns índios já me disseram que aquilo que os índios fazem com o corpo e com o pensamento, os brancos fazem com outros instrumentos, sobretudo com as máquinas. Nunca entendi bem se essa é uma afirmação metafórica ou literal, e quem diz isso são os Tukano. Vários deles já estão no Orkut… Mas parece que também os Yanomami fazem um esforço grande para nos fazer entender um pouco dessas coisas que não sabemos escutar ou ver. Será que em algum ponto dessa história eles poderão vir a se apropriar da tecnologia digital, por exemplo, para falar de desenhos de cantos?”[13]
[13] Geraldo Andrello, [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por Laymert Garcia dos Santos em 19 out. 2009.
As observações do antropólogo são valiosas porque ajudam a afinar o entendimento da experiência e a aprofundar uma exploração do paralelo xamanismo-tecnociência a respeito do modo como culturas diversas acessam a dimensão virtual da realidade. É exatamente essa relação que tem interesse e não creio que devamos considerá-la no plano metafórico, pois aí tudo se perde e caímos na linguagem da representação, que parasita, paralisa e tira a potência do que poderíamos pensar para avançar.
Talvez não caiba mesmo falar em tipos de virtualidades, mas sim em cientificidades operatórias distintas para lidar com o virtual, porque regidas por lógicas diferentes que resultam em percepções de mundos diferentes. Mesmo assim, não se pode deixar de assinalar a convergência entre a perspectiva mítica yanomami e a perspectiva científica traçada por Philip Fearnside, por exemplo, quanto ao futuro sombrio que nos espera em virtude dos efeitos da destruição da floresta. Pois a maquinação mítica e as simulações tecnocientíficas funcionam, tanto em Amazônia quanto na assim chamada “vida real”, como dispositivos de antecipação de uma catástrofe anunciada. Assim, tentamos construir, a partir de dentro, um diálogo entre o mundo virtual da técnica e o mundo espiritual dos xamãs.
documentação
Histórico do seminário ensaios amazônicos
Ópera 2.0
Ópera proposta inicial
Relato da visita à Aldeia Watoriki – festa da pupunha
Programm Amazonas oper – Munique
Amazonas Oper – Amoahiki
Programa Ópera Amazônia – São Paulo
Bienale 2010 – Amazonas
Canto da Selva – Humboldt 97
Mapas
créditos
Imagens: Roland Quitt; Moritz Büchner
Vídeo: Rudá K. Andrade
Este post também está disponível em:
![]() English (Inglês)
English (Inglês) ![]() Español (Espanhol)
Español (Espanhol)