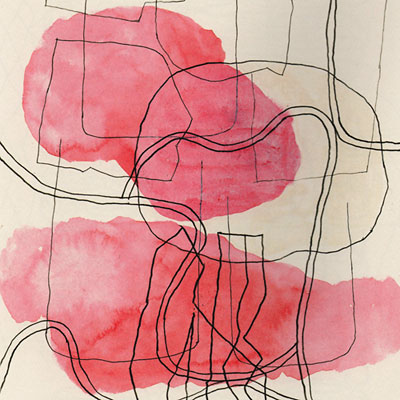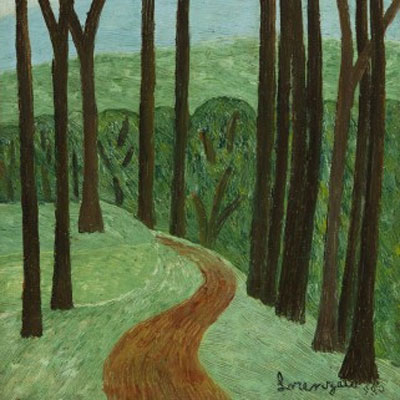[I] Os críticos de arte e comentadores da obra de Partenheimer, sejam eles europeus, chineses ou brasileiros, freqüentemente apontam para o caráter meditativo, aéreo, alegre, imaginativo, e até mesmo lírico de seus desenhos e pinturas, sem esquecer, obviamente, do enigmático equilíbrio que torna sua obra inconfundível, e do silêncio que parece habitá-la (que se pense nas séries do Diário Romano, de Carmen, de De Coloribus, de…
Há algum tempo a imprensa publicou que o primeiro-ministro Tony Blair, preocupado com o futuro das universidades após dez anos de sistemática desvalorização social e econômica de seus professores, decidiu promover uma reforma que restituísse à carreira docente a importância que já teve na sociedade. A razão é óbvia: o governo inglês descobriu que os melhores talentos das novas gerações não se sentem mais atraídos pelo ensino e a pesquisa… numa época que vincula diretamente a supremacia à educação. Os ingleses já sabiam que na era da informação o capitalismo de ponta é “knowledge based”, como eles dizem; agora parecem ter se dado conta de que precisam investir em educação se quiserem continuar existindo e contando, como nação e como povo. Ao ler sobre a iniciativa de Blair, não pude deixar de comparar a situação dos scholars à nossa. Conheço um pouco a universidade inglesa, por ter sido professor visitante no Saint Antony’s College, em Oxford, no ano letivo de 92-93. Oxford e Cambridge são evidentemente a quintessência do sistema universitário inglês; “mutatis mutandis”, são para este o que são as universidades paulistas para o sistema brasileiro, o que de certa forma autoriza a comparação.
Acostumado a ser maltratado
Pois bem: mesmo desprestigiados, os professores de lá tinham uma situação bem melhor que a nossa. Alguns até achavam que a decadência se processava de modo lento e silencioso, como o afundar de um majestoso navio; mas as bibliotecas eram excelentes, as condições de trabalho permitiam real dedicação exclusiva e a profissão era considerada – senti na pele o tratamento respeitoso que um scholar merecia de todas as camadas sociais (e descobri então como estava acostumado a ser maltratado). Ora, essa situação, para nós invejável, já se tornava crítica nas condições implacáveis de competição que o capitalismo contemporâneo estabeleceu.
Seria ingênuo confiar inteiramente na proposta de Blair e muito mais ainda acreditar que o sistema universitário britânico pode servir de modelo para nós. Entretanto a lembrança e a comparação se justificam para sublinhar que estamos seguindo trajetória oposta à dos ingleses. Enquanto lá se desenha uma revalorização da carreira docente, aqui se acelera a desqualificação.
Pouco tempo depois da leitura da notícia, mas antes que a greve das universidades estaduais paulistas estourasse, um momento de lucidez me impôs com toda a crueza aquilo que tentei recalcar durante anos: a percepção de que a carreira acadêmica tornou-se um beco sem saída porque a universidade brasileira está acabando. Isso mesmo: acabando. Primeiro porque o desmantelamento das universidades públicas parece inexorável; segundo porque a destruição delas deixará um enorme vazio que não será ocupado pelas particulares, pela simples razão de que estas nem merecem seriamente o nome de universidade (é claro que as PUCs são uma exceção, mas, espremidas entre a função pública e o contrato de trabalho privado, vêm vivendo um dilema que pouco a pouco as transforma em universidades de serviços).
Fuga do ressentimento
A constatação de que a universidade está acabando deixa um gosto amargo, depositado na palavra decepção. Aos 51 anos, e após mais de 20 de carreira, vejo-me levado a “desistir” da universidade, a fazer o luto, como se diz na linguagem dos psicanalistas. Mais importante, porém, do que isso pode significar em termos pessoais (tenho, entre outras coisas, que lutar para que a decepção não se transforme em ressentimento), é a lição que o próprio processo ensina. Talvez a universidade esteja acabando porque o projeto de construção da sociedade brasileira moderna também está acabando, talvez um ensino superior forte e atuante não faça mais sentido na condição neocolonial em que nos metemos. Se isso for verdade, a carreira acadêmica, tal como a entendemos hoje, está condenada à degradação e ao desaparecimento. Temos procurado esquivar-nos de nossa real situação escudando-nos complacentemente na imagem aristocrática da primeira geração de professores da Universidade de São Paulo. Contudo precisamos encarar, por um lado, nossa crescente proletarização em termos econômicos e, por outro, nossa insidiosa transformação numa espécie de lumpesinato intelectual. Para começar, deveríamos prestar atenção ao modo como hoje somos vistos dentro da sociedade brasileira: como coitados ou otários. Aqueles que ainda concebem a transmissão do conhecimento como uma nobre missão nos chamam de coitados, para explicar a si mesmos por que pessoas tão qualificadas, com tanto estudo e tantos diplomas, insistem nessa profissão; em suma, apiedam-se de nós porque toleramos o intolerável. Mas há também, e são muitos, os que nos qualificam de trouxas; há pouco tempo um cortesão do Planalto encontrou casualmente no aeroporto uma ex-colega, professora da USP, e perguntou-lhe o que estava fazendo. Quando sua interlocutora contou que continuava trabalhando na universidade, o arrivista tucano balançou levemente a cabeça e, com ar condescendente, observou: “Minha cara, você ainda não entendeu nada!”. Com o salário que recebe nas universidades estaduais paulistas, trabalhando em regime de tempo integral, o professor não tem mais condições de exercer a sua função com dignidade e competência: falta-lhe dinheiro para comprar livros e acompanhar a discussão cultural e artística, para inteirar-se das transformações tecnológicas que afetam toda a produção de conhecimento, falta-lhe o pão do espírito. Isso já seria trágico, se não lhe faltasse ainda o principal: a tranquilidade para concentrar a atenção em suas aulas e pesquisas. Atolado na viração, nos bicos para tapar os buracos de seu cartão de crédito, ele vai se acostumando às práticas do mercado informal de trabalho, adaptando-se à lógica do imediatismo que nos leva a fazer tudo e qualquer coisa em troca da sobrevivência. As marcas da proletarização estão expostas até mesmo na gastura e no envelhecimento precoce de muitos de nós. Mas não é só por meio do salário ridículo que ela se manifesta. A crise financeira das universidades impede a contratação de novos profissionais para substituir os que se aposentam, e a progressiva adoção pelas reitorias da doutrina neoliberal consagra a idéia de que a atividade intelectual se mede na multiplicação de turmas e disciplinas. Isso transforma os professores em “dadores de aulas” para classes numerosas, aproximando-os de seus colegas das “universidades” privadas. É o que chamo de professorado lúmpen. Na retórica das reitorias fala-se que a universidade almeja a excelência do ensino e a pesquisa de ponta, a interdisciplinaridade, a defesa do interesse público e do cidadão, a necessária adequação às novas realidades do século 21. Pura novilíngua orwelliana. Na prática, o projeto do atual reitor da Unicamp, por exemplo, parece limitar-se ao desejo de “democratizar” a universidade ampliando a oferta de cursos noturnos, o que se traduziria, evidentemente, em mais trabalho pelo mesmo salário. De que adianta, porém, a democratização da miséria e de um ensino degradado? Num momento de crise profunda, em que os próprios valores universitários estão sendo destroçados, seria a massificação do ensino uma saída? Numa concepção populista, o atendimento à demanda por mais vagas responderia às críticas que a comunidade faz à universidade. Mas pode a perspectiva assistencialista preencher a função social da universidade numa época hipercomplexa como a nossa?
Processo de desmanche
Os reitores afirmam que os salários estão defasados, mas lamentam não poder atualizá-los, jogando a culpa nos aposentados que, no entanto, cotizaram durante anos. Em nenhum momento, porém, se viu de sua parte a disposição de admitir publicamente a crise da universidade em toda a sua extensão, de celebrar uma aliança com o corpo de professores e funcionários em sua defesa e de buscar, junto às autoridades estaduais, o entendimento e a mudança das regras que possam salvá-la. Por que os reitores se negam a assumir a liderança de um movimento positivo que detenha e reverta o processo de desmanche? Por que pensam que não tem mais jeito? Por que sabem que as autoridades serão surdas?
Nessa crise, o silêncio das autoridades governamentais sobre a questão de fundo é altamente esclarecedor. O governo Covas, até agora, limitou-se a mandar a polícia bater nos docentes e a desqualificá-los, chamando-os de fascistas e malufistas. Os governantes brasileiros e paulistas não estão nem aí para o fim da universidade – e o máximo da ironia é que vários deles foram professores. As autoridades não se sentem mais responsáveis por nada do que acontece na esfera pública, não têm mais de prestar contas a ninguém. É que os governantes só estão comprometidos com o desmanche das instituições e dos direitos, deixando a gestão dos seus efeitos perversos para a tropa de choque e os especialistas de marketing.