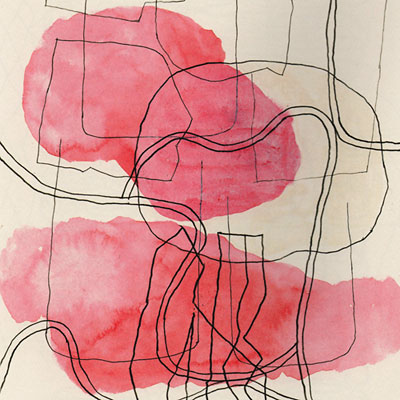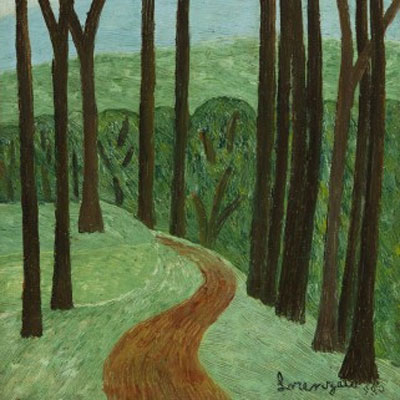[I] Os críticos de arte e comentadores da obra de Partenheimer, sejam eles europeus, chineses ou brasileiros, freqüentemente apontam para o caráter meditativo, aéreo, alegre, imaginativo, e até mesmo lírico de seus desenhos e pinturas, sem esquecer, obviamente, do enigmático equilíbrio que torna sua obra inconfundível, e do silêncio que parece habitá-la (que se pense nas séries do Diário Romano, de Carmen, de De Coloribus, de…
As relações entre a arte contemporânea e a tecnologia, sobretudo a digital, precisam ser repensadas, porque a partir dos anos 70 do século XX, com a “virada cibernética”, estamos entrando num outro tipo de formação sócio-histórica que nos possibilita uma experiência estética muito específica, de natureza tecno-estética. E isso se deve, antes de tudo, à tremenda capilaridade das tecnologias da informação penetrando em todos os setores e atividades e transformando a vida, o trabalho e a linguagem.
É claro que a arte também foi e está sendo afetada pelo intenso processo de tecnologização. Por isso, vale lembrar o texto de Hans Belting, “Art in the TV Age. On Global Art and Local Art History”. Pois nesse ensaio, refletindo sobre o que cabe à arte numa era tecnológica, o historiador sugere que a arte e a tecnologia sempre competiram, desde a emergência da modernidade, em termos de descobrimento e de progresso. Entretanto, diz ele,
“hoje a tecnologia parece vencer a velha competição e até conquistar uma indisputada autoridade na constituição de uma nova identidade global. Além disso, a tecnologia controla a experiência do que chamamos realidade virtual, cujo fascínio ofusca o velho papel da arte como o porto do imaginário”.
Ora, sempre segundo Belting, a vitória da tecnologia teve implicações importantes para a arte: em primeiro lugar, porque a utopia deixou de ser uma de suas reivindicações e tornou-se privilégio da tecnologia; por outro lado, a arte se tornou por excelência o campo da imaginação privada e da criatividade enquanto a TV se tornou a expressão dos interesses econômicos e políticos em escala global; finalmente, lembrando Peter Sellers, o historiador afirma que, contrariamente aos mass media, a arte deve ser lenta, difícil e obscura se quiser manter sua vida e seus direitos no mundo de hoje.
A observação de Belting é importante porque, vista por esse prisma, a vitória da tecnologia sobre a arte também passa a significar a primazia da capacidade da tecnologia de afetar o humano do modo mais intenso, de propor-lhe experiências cujo impacto transformador é inigualável e, no limite, de transmutar a própria individuação, na medida em que interfere na noção mesma de natureza humana. O que equivale a dizer que a potência de transformação da tecnologia, inclusive e sobretudo no tocante à percepção da realidade, é incomparavelmente maior do que aquela que a arte hoje pode vir a almejar.
Ora, tal impacto se dá num contexto em que ainda predomina um divórcio entre tecnologia e cultura e a necessidade de superar esse estado de coisas. A questão é complexa e difícil porque prevalece em nossa cultura um pensamento autocrático, no dizer de Gilbert Simondon, uma “filosofia autocrática da técnica”, que repõe, nas relações homem-máquina, os termos da velha relação senhor-escravo. Com efeito, boa parte da concepção dominante vê o homem como senhor da máquina, ou, o seu contrário, a máquina sujeitando o humano. Concepção na qual sempre um dos termos da relação submete o outro, instrumentaliza-o para a realização de seus próprios desígnios.
Essa visão instrumental da relação humano-máquina é predominante até quando o homem recorre às máquinas com intenções estéticas. A máquina é, então, um recurso, um meio de expressão à disposição do humano, não um parceiro de uma criação que vai afetar, e transformar, tanto o humano quanto a máquina. A filosofia autocrática da técnica informa boa parte da produção que se inscreve no binômio arte-tecnologia.
É fácil constar isso – basta atentar para a importância, até mesmo a prevalência da questão da interatividade nos trabalhos de arte-tecnologia. Brian Massumi, num texto interessantíssimo, já apontou a diferença entre interatividade e interação, isto é o quanto a primeira “programa” e modeliza a conduta do interlocutor, enquanto a segunda opera principalmente na margem de indeterminação e na fluência e flexibilidade do diálogo que vai se construindo. Ora, uma mirada um pouco mais atenta na maioria das obras que reivindicam o estatuto de arte-tecnologia constata a aposta na interatividade. Assim, os trabalhos se resumem a explorar possibilidades de comunicação e apresentam baixíssimo teor e valor estético. Em geral, contém uma pequena ideia, um pequeno conceito de interatividade que, acionado, confirma o sujeito na sua supremacia, concedendo-lhe a satisfação de entrar numa espécie de jogo com a máquina apenas para matar a charada, e vencê-la ou dominá-la. Outras vezes, o trabalho de arte consiste simplesmente na mera aplicação de princípios e regras tecnológicos no campo das artes visuais. É o caso, por exemplo, de um Eduardo Kac, com a criação de Alba, o coelho transgênico que resulta da instrumentalização de procedimentos biotecnológicos no campo da arte. Em suma, a arte e a tecnologia se apresentam como dois registros diferentes e separados, que vão ser associados de forma a fazer “casar” dois modos de existência distintos.

No Brasil há ainda um outro aspecto que precisa ser considerado. É que a desigualdade sócio-econômica ainda muito acentuada não permite que a tecnologia se impregne em todo o tecido social, acrescentando à discriminação de raça e de classe, a discriminação do acesso à cultura digital. Como bem viu Celso Furtado em seus textos sobre tecnologia, cultura e desenvolvimento, aqui, a tecnologia é um fator de distinção das elites para a exibição de seu consumo suntuário, a tecnologia é luxo, é fetiche. O que faz com que o narcisismo habitual dos artistas se veja duplicado ou reforçado pela suposta superioridade sócio-cultural e técnica daqueles que fazem arte tecnológica, que seriam a vanguarda do contemporâneo.
Entretanto, aqui mesmo podemos encontrar exemplos instigantes de artistas cujo trabalho tem por ênfase uma tecno-estética. É o caso, da série Planos, de André Favilla. Só aparentemente esses desenhos são feitos por um autor. Na verdade, artista e computador, homem e máquina, são meios acionados por agenciamentos cuja função é fazer com que os desenhos possam se desenhar. Nem humanos nem de máquina, os desenhos são a configuração da matéria e da forma da expressão bem como da matéria e da forma do conteúdo. A criação se dá, anônima e no entanto singularíssima, porque o sujeito e o objeto dela não a preexistem, mas antes resultam de seu exercício. Basta percebermos o modo como as forças a-expressivas no artista se relacionam com a margem de indeterminação existente no computador, como as tensões a-significativas que nele se agitam encontram meios de realização no potencial inexplorado, mas latente, da máquina, que ali aguarda mobilização. Planos são feitos por um humanomáquina que não tem nada a ver com a imagem tradicional que nós fazemos do artista criador. Planos não cabem nas categorias da História da Arte.
Há muitos artistas contemporâneos flertando com a tecnologia digital, fascinados com os aparelhos ou com os pixels. Mais numerosos ainda são os usuários de computadores que, oriundos das mais diversas profissões e especialidades, se utilizam das máquinas para desenhar – dos arquitetos aos designers, passando pelos engenheiros, cientistas, biotecnólogos, etc. Mas pouquíssimos são os criadores à altura do desafio tecno-estético que a própria relação humano-máquina ao mesmo tempo solicita e exige. André Favilla é um deles.
Um outro exemplo que gostaria de mencionar é Xapiri, um filme dirigido coletivamente por Leandro Lima e Gisela Motta, Laymert Garcia dos Santos e Stella Senra, e Bruce Albert.
Xapiri é um termo yanomami para designar tanto os xamãs, os homens espíritos (xapiri thëpë) quanto espíritos auxiliares (xapiri pë). Xapiri é um filme experimental sobre o xamanismo yanomami, realizado por ocasião de dois encontros de xamãs na aldeia de Watoriki, Amazonas, em março de 2011 e abril de 2012. O filme foi concebido de modo a levar em conta duas noções diferentes de imagem: a dos yanomami e a nossa. Não se trata, pois, de explicar o xamanismo, seus métodos ou procedimentos, mas de tornar visível e sensível, para públicos de culturas diferentes, o modo segundo o qual os xamãs “incorporam” os espíritos, como seus corpos e suas vozes se transformam tanto no contato com os espíritos quanto ao “passar” de um a outro espírito.

Nesse sentido, Xapiri é resultado do encontro de dois dispositivos audiovisuais muito diferentes: o dispositivo audiovisual xamânico yanomami e o dispositivo audiovisual digital ocidental. O experimento consistiu, de início, no esforço para entender a complexa noção de imagem yanomami, muito diversa da que conhecemos; em seguida tratou-se de gerar imagens e sons das performances xamânicas com o intuito de criar “simulações” dessas “passagens de imagens” por meio de nossas tecnologias digitais.