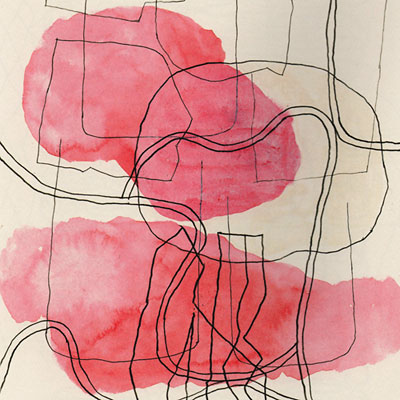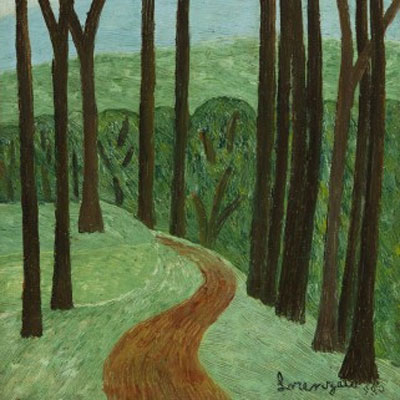[I] Os críticos de arte e comentadores da obra de Partenheimer, sejam eles europeus, chineses ou brasileiros, freqüentemente apontam para o caráter meditativo, aéreo, alegre, imaginativo, e até mesmo lírico de seus desenhos e pinturas, sem esquecer, obviamente, do enigmático equilíbrio que torna sua obra inconfundível, e do silêncio que parece habitá-la (que se pense nas séries do Diário Romano, de Carmen, de De Coloribus, de…

Entre uma sala em “Amazônicas”, no Instituto Cultural Itaú (São Paulo), e outra na 24ª Bienal de São Paulo (em outubro), Claudia Andujar abre, hoje, “Yanomami”, uma grande mostra na 2ª Bienal Internacional de Fotografia de Curitiba. Com essas três exposições se explicita a grandeza e a complexidade de uma obra – a ponto de se poder dizer que 1998 deve inscrever seu nome na arte contemporânea.
Convivendo com os yanomami, porque com eles comprometeu sua vida desde os anos 70, Claudia Andujar constituiu um acervo de milhares de imagens, nas quais se fixaram a descoberta de um povo e, com ela, a possibilidade de redescobrimento do mundo. Agora a fotógrafa dele extraiu para esta exposição uma série de fotos realizadas entre 1972 e 1976, também publicadas em livro. A série se apresenta como três movimentos que restituem o sentido da descoberta e do redescobrimento, ao reativarem aquilo que foi uma “experiência pura”. “O campo instantâneo do presente”, escreve William James, “é sempre a experiência em estado “puro'” 1.
1 Em David Lapoujade, “William James – Empirisme et Pragmatisme”, PUF, 1997, pág. 24;
As fotos de “Yanomami” não mostram os índios e seu habitat, sua cultura e seus rituais. Claudia Andujar não documenta, mas tampouco faz fotografia “de arte”. Recusando-se a tomar os yanomami como objeto antropológico, jornalístico ou artístico, recusando a própria relação sujeito-objeto, a fotógrafa foi ao encontro do outro. E, se suas fotos são de uma precisão rara e de uma beleza única, isso se deve à própria natureza do encontro e do registro do acontecimento.
Perto delas, as célebres fotografias que Leni Riefenstahl 2 fez dos nubas empalidecem – fascinada com a beleza desse povo africano, a cineasta reitera o esteta do Ocidente em busca da forma ideal; por isso mesmo, suas imagens impressionam, mas não “co-movem”, como é o caso aqui.
2 Ver Leni Riefenstahl, “Il Ritmo di uno Sguardo”, Leonardo Arte, 1996;
Se não há documento nem “arte”, de que se trata então? “Minha relação com os yanomami, fio condutor da minha trajetória de fotógrafa e de vida, é essencialmente afetiva”, diz Claudia Andujar. A observação merece destaque, pois fornece a chave para a percepção das imagens como experiência pura. Com efeito, se o espectador percorrê-las atento às afecções que elas contêm e provocam, será absorvido pelos movimentos que conduzem sucessivamente a artista à casa, à floresta e ao invisível.
Tal série obedece a uma necessidade de aceleração e intensificação própria da experiência pura, que difere absolutamente de nossa experiência comum de “ver imagens”. Como se o ritmo de produção e a ordem de apresentação por meio dos quais as imagens se oferecem tivessem sido magicamente contaminados, por contato e contágio, pelo tempo mítico em que vivem os yanomami.

A exposição se abre com “A Casa”. Diz o xamã: “Foi nessa primeira casa que meu pensamento acordou e começou a endireitar. Lá comecei a observar como os antigos faziam as coisas que Omama, que criou os yanomami, lhes ensinou”. O espectador se aproxima da maloca e entra nela aos poucos. Arquitetura de luz e sombra, a casa se revela paradoxalmente como espaço aberto e fechado, um universo micro-macrocósmico no qual os seres humanos começam a surgir como materializações de uma luz estelar que os traz do céu ao chão. Ali, na gravidade e escuridão da terra, os corpos vão se destacando e as crianças vindo ao mundo, imprecisas, quase improváveis, como que nascendo na e da luz. De repente uma diferença na modulação do movimento introduz a extraordinária foto do menino metade luz, metade sombra, cujos contornos indecisos contrastam com a primeira imagem nítida de um homem yanomami, capturada no instante em que seu rosto se reflete num espelho. A partir daí surgem os homens e as mulheres yanomami em sua domesticidade.
“A Casa” é portanto o espaço-tempo do nascimento, do vir à luz e da vida em comum. O movimento da sequência é literalmente o de uma revelação, que se dá em dois níveis: por um lado, esta afeta a fotógrafa e o espectador como a descoberta da existência de um outro universo; por outro, a revelação desperta o pensamento para o modo como a própria imagem desse universo parece se manifestar. Ora, tal movimento de revelação só se torna visível porque até mesmo o ato de fotografar é afetado: indo de encontro ao outro, a fotografia retorna à sua própria imanência e se redescobre enquanto impressão e fixação da luz; fotografar volta a ser uma operação constitutiva do real se fazendo imagem, e não a captura, por um sujeito, da reflexão de um real já dado 3.
3 Em “Sur les Traces de Nadar”, Rosalind Krauss escreve: “A luz, que é a forma de “escritura’ própria da fotografia (…)”. Em “Le Photographique – Pour une Théorie des Ecarts”, Macula, 1990;

O segundo movimento, “A Floresta”, prolonga e aprofunda o processo desencadeado. Davi K. Yanomami pontua a passagem: “Os brancos acham que a “natureza’ é algo morto, posto no chão sem razão. Eles se enganam. (…) Sabemos que ela vive, que tem um sopro de vida muito comprido, muito maior do que o nosso. (…) Ela respira, mesmo se vocês não percebem (…)”.
Deslocando-nos para o mato, o fotógrafo e o espectador se encontram e se perdem no espaço-tempo yanomami, em meio a uma natureza viva. Tudo se passa como se tivéssemos entrado num vórtice luminoso, sem que no entanto saibamos se somos nós que nos precipitamos ou se é o mundo que corre ao nosso encontro. O fato de ser impossível estabelecer a direção do movimento suscita uma impressão de oscilação que faz a floresta vibrar. No vaivém do túnel de luz, como que decorrência da pulsação da natureza, vão ganhando consistência cenas da vida no mato: acampamentos, redes, crianças brincando, homens caçando, mulheres se banhando nos igarapés, aves, plantas, penas, animais. São momentos memoráveis, embora comuns, quaisquer, momentos deslumbrantes e fragílimos, colhidos como precárias imagens de caleidoscópio que se formam por um instante e se desfazem logo em seguida, feitos e desfeitos pela força de um fluxo inexorável.
O frescor quase inacreditável dessas imagens provém de seu caráter efêmero. A sensação de que as imagens não duram e nem podem durar se impõe porque Claudia Andujar parece fotografar não a própria cena, mas a sua aparição e iminente desaparecimento. Renunciando a qualquer impulso de composição, a artista submete sua câmera ao ritmo de composição da natureza. Tal renúncia lhe permite captar com grande acuidade a relação íntima e íntegra que os yanomami têm com a floresta: as fotos não mostram os índios e o mato, nem mesmo os índios no mato, mas uma integração índios-mato que ressalta as trocas intensas entre os humanos e o meio.
O terceiro movimento, “O Invisível”, leva ao paroxismo a experiência pura. Nele é fotografado o ritual xamânico. O xamã conta: “Quando se toma pela primeira vez o pó da árvore “yãkoãnahi’, os espíritos “xapiripë’ começam a chegar até você. Primeiro, ouvem-se de longe seus cantos de alegria, tênues como zumbidos de mosquitos. Depois, quando os olhos estão morrendo, começa-se a ver luzes cintilantes, que tremem nas alturas, vindas de todas as direções do céu. Aos poucos os espíritos se revelam, avançando e recuando com passos de dança muito lentos. (…) Mas, de repente, armados com grandes “espadas’, partem ao meio sua coluna vertebral. Cortam sua cabeça e sua língua. Sente-se então uma dor intensa e você desmaia. Seu envelope corporal fica no chão, mas os “xapiripë’ voam para longe, levando as partes do seu corpo imaterial. (…) Mais tarde recompõem seu corpo, mas ao contrário: juntam a cabeça no lugar do traseiro e as pernas no lugar dos braços. Uma vez virado do avesso, você pode responder aos espíritos e imitar seus cantos, você pode ser um xamã”.

É interessante notar que o terceiro movimento se intitula “O Invisível”, e não “O Ritual”. Como se aqui se tratasse de fotografar o que não se vê! A ambição seria desmedida se já não estivéssemos embarcados num processo que há muito deixou para trás o registro do documento e da fotografia “de arte”. Vê-se que Claudia Andujar não está interessada no exotismo do ritual, seja para compreendê-lo ou para explorar sua beleza “selvagem”. A artista se aproxima do ritual porque ele expressa o coração da vida yanomami, que consiste precisamente na relação com o invisível. Assim, o foco não se volta para a materialidade do ritual, mas para a dimensão mítica que nele vai se incorporar.
Nesta sequência, o que se vê é o que não se pode olhar. Para tanto, é preciso tornar perceptível a realização da “viagem” xamânica não abertamente, o que seria impossível, mas por meio dos índices que ela vai deixando como traços das etapas cumpridas. Todo o terceiro movimento se caracterizará então pela ressonância no envelope corporal do que acontece no corpo imaterial e pela captação propriamente afetiva dessa ressonância impactando o corpo da fotógrafa e sua câmera. Como se Claudia Andujar tivesse entrado em sintonia com os praticantes do ritual, passando ela mesma por um processo de purificação que a transforma e afeta a fotografia.
O terceiro movimento se abre com a foto de um índio na rede, quase pairando numa atmosfera evanescente. Seu estado de abandono sugere que os zumbidos dos cantos dos espíritos soam nos ouvidos e que em seus olhos “agonizantes” já desponta o cintilar das luzes. A partir daí, proliferam as imagens indicando a festa, o consumo da bebida e do “yãkõana”, os cantos, a dança. A intensidade dos gestos se acentua, as energias se expandem, um clima de transe vai ganhando os corpos -vê-se que os índios estão entregues às alucinações e práticas xamânicas.
Envolvido pelas forças que parecem se desprender desses corpos e eletrizar o espaço inteiro, o espectador impactado não encontra a distância que lhe asseguraria o papel do voyeur; muito ao contrário, acometido pelo ritmo frenético que assalta as imagens, compartilha com a fotógrafa a sua inserção singular nesse espaço-tempo convulsionado. De foto em foto, o acúmulo de descargas intensivas nos leva a crer que, se os yanomami vêem os espíritos, nós mesmos passamos a vê-los como espíritos tomados -e, comovidos, sentimos o eco de sua exaltação e da plenitude da graça.
Para entender a natureza da obra de Claudia Andujar dentro da arte contemporânea vale a pena evocar a de Joseph Beuys. Piloto da Luftwaffe até que seu avião caiu em 1943 na Criméia, Beuys, gravemente ferido, foi socorrido pelos tártaros e tratado por seus xamãs. O episódio foi decisivo em sua vida, em sua opção pelo trabalho artístico e em sua própria concepção da arte, que ele fundia com a vida 4. Como o artista alemão, Claudia Andujar também encontra os yanomami na condição de sobreviventes de um desastre. Judia, tivera seu pai e toda a família paterna exterminados nos campos de concentração. Mais do que um simples trauma, Auschwitz teve um impacto devastador na sensibilidade e na consciência contemporâneas, que Primo Levi dolorosamente apontou e ainda não foi totalmente compreendido por nós. Era essa herança familiar e histórica que Claudia Andujar trazia consigo quando encontrou os yanomami. E, assim como Beuys teve a sua vida salva pelos tártaros, também ela foi “curada” pelos índios: com os yanomami se abria a possibilidade efetiva de voltar a acreditar na humanidade. Ora, esse bom encontro decisivo estrutura o eixo de seu trabalho e de sua vida e transpira em todas as fotos, bem como em sua incansável luta em prol dos yanomami.
4 Para o seu conceito ampliado de arte, ver Clara Bodenmann-Ritter, “Joseph Beuys – Cada Hombre, un Artista”, Visor, 1995.
Sobrevivente de um genocídio, a artista compreendeu que os próprios yanomami estavam ameaçados de genocídio, em meio à indiferença geral da sociedade brasileira. Engajou-se então na luta em sua defesa, à frente da Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY), que teve um papel crucial na demarcação do território em 1992. Costuma-se dissociar sua fotografia da luta; no meu entender, porém, há coerência entre as duas atividades, por não haver separação entre arte e vida. Nesse sentido, a criação do território yanomami pode ser vista como uma ampliação radical do conceito de “land art”, por suas implicações, sua dimensão (192 mil km2) e sua potência de produção de sentido.
Explico-me: quem sobrevoa suas imensas matas e sua constelação de malocas dá-se conta de que “urihi”, a terra-floresta yanomami, já existia para os índios; mas foi preciso torná-la visível ao nosso entendimento, expressá-la no referencial do nosso mundo, concretizá-la para os outros povos, materializá-la em mapas, linhas, marcos, imagens, signos, fotografias – numa palavra: foi preciso criá-la, antes que o sistema jurídico-institucional a referendasse, e até mesmo para que a reconhecesse. Invenção contemporânea, obra de arte coletiva, o território yanomami encontrou em Andujar um de seus principais artífices.

Publicado in
Folha de São Paulo, domingo, 16 de agosto de 1998.
Imagens no post
Série “A casa” – primeira e segunda
Série “A floresta”– terceira
Série “O invisível” – quarta e quinta
Este post também está disponível em:
![]() Español (Espanhol)
Español (Espanhol)